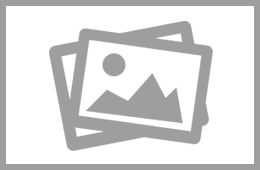Em Moçambique, a região ao redor da Baía de Inhambane, na província com o mesmo nome, associa-se à comunidade tonga, ou seja, aos vatonga. Por se encontrarem numa região do litoral, os vatonga mantiveram ao longo dos tempos intensos contactos com pessoas e povos que, motivados por diversos interesses, demandaram a costa de Moçambique.
Para além da presença portuguesa a
história regista contactos com pessoas e povos de outras regiões como os povos vindo do Médio
Oriente e povos vindos da África do Sul (baNgoni), a quando do M’fecane.
As invasões dos Ngoni
Um grande grupo Ngoni,
veio fixar-se na planície costeira entre a cadeia de montanhas Drakensberg e o
mar, o rio Fish ao sul e a Baia de Maputo ao norte. Nessa região o solo era
bastante fértil, as chuvas eram regulares e os muitos rios que descem das
montanhas Drakensberg foram fronteiras naturais históricas. Por outro lado, é
uma zona livre da mosca tsetse e da malária. Todas estas condições naturais
fizeram com que o povo Ngoni aumentasse depressa.
A região era própria
para a pastoricia e os povos Ngoni ocupavam-se geralmente da criação de gado.
Os Ngonis eram um povo patrilinear. Viviam em tribos não muito numerosas,
tinham um chefe que tinha funções políticas, religiosas e militares dentro do
quadro da tribo. No campo militar era frequentemente ajudado por indunas, que
eram uma espécie de ouvidos e olhos do rei. O povo Ngoni tinha, um tipo de
economia tribal em que os escravos ainda não tinham lugar mas tinha certas
camadas da tribo que possuiam já uma situação privilegiada na repartição dos
bens da produção.
Nos meados do século
XVIII várias lutas começaram a ter lugar entre as várias tribos pela posse da
terra. O aumento da população criava problemas difíceis de resolver numa
economia em que não se produzia mais do que o necessário para consumir. As
tribos tinham que se expandir para terem espaço suficiente para a pastoricia e
agricultura, e isso tinham que o fazer no estreito corredor entre as montanhas
Drakensberg e o mar. Os rios que descem do Drakensberg formavam fronteiras
naturais e dessa forma se formaram três grandes grupos de tribos Ngoni. Os
Ngwane, comandados pelo chefe Sobuza, encontravam-se desde o rio Tembe até ao
rio Pongola. Os Ndwandwe entre o rio Pongola e o rio Mfolozi e comandados por
Zwide. Os Mthethwa do rio Mfolozi até ao rio Tugela e comandados por
Dingiswayo. As lutas entre estas tribos eram muito frequentes e por essa razão
a organização militar dessas tribos se aperfeiçoou muito. Os exércitos eram
organizados na base de grupos da mesma idade.
Todos aqueles que eram
circuncidados ao mesmo tempo faziam parte dum mesmo grupo no exército o que
ajudava a criar um maior entendimento nesses grupos vindos de regiões
diferentes. Esta formação do exército foi primeiramente utilizada por
Dingiswayo, o mais famoso dos três chefes tribais.
M’fecane
Dingiswayo não tinha
conseguido submeter as tribos Ndwandwe à sua autoridade. Os Ndwandwe eram
comandados por Zwide. Na luta pelo espaço Tchaka precisava expandir para o
norte. Para isso reformou todos os métodos de táctica e organização do seu
exército. Tchaka formou um estado tribal militar.
Tchaka tornara-se senhor absoluto nas terras
entre o rio Pongola e o rio Tugela. Começou a desafiar o poder de Zwide,
conseguindo fazer com que várias tribos Ndwandwe começassem a prestar-lhe
vassalagem. Zwide não podia ficar parado perante um inimigo que se preparava
para conquistar-lhe as suas terras e por isso resolveu tomar a iniciativa de
atacar Tchaka.
Os dois exércitos encontraram-se perto da colina
Gokoli. Os Ndwandwe eram numericamente superiores mas a disciplina do exército
zulu conseguiu-lhe outra superioridade. Tiveram de recuar deixando no campo de
batalha cinco dos filhos de Zwide, entre os quais o herdeiro.
Zwide não desistiu de atacar. Sabia que travava
com Tchaka um combate decisivo. Ou ele vencia e podia continuar a reinar ou era
vencido por Tchaka e o seu povo ficaria sob o domínio zulu. em 1819 enviou
contra Tchaka um exército poderosíssimo. Em
contrapartida o rei asututo, Tchaca, enviou o seu povo e o seu gado para
fechar a passagem ao inimigo ao mesmo tempo que ia atacando o exército Ndwandwe
com pequenos destacamentos de guerreiros, numa táctica de guerrilhas. Uma noite
uma grande quantidade de guerreiros zulus conseguiu penetrar no acampamento dos
Ndwandwe, enquanto estes dormiam, e mataram centenas de guerreiros. Antes dos
Ndwandwe poderem reagir os guerreiros zulus fugiram.
Ao mesmo tempo, Tchaka
ia deixando o exército inimigo penetrar no seu território quase até ao rio
Tugela, continuando a fazer pequenos ataques de guerrilhas, indo assim desmoralizando
o exército inimigo. A fome começou a lavrar no exército de Zwide e todos os
homens estavam muito cansados. Zwide então decidiu recuar e voltar para o seu
país.
Quando iam atravessar o
rio Mhlatuze o exército de Tchaka caiu sobre eles. Foram completamente
derrotados. Tchaka enviou os seus exércitos que entraram no país Ndwandwe e
massacraram a maior parte da população civil. O que restou do exército de Zwide
dividiu-se em três grupos. Zwide conseguiu chegar com alguns dos seus até ao
Alto Incomate onde se instalou. Dois outros grupos dirigidos por Soshangane e
Zwangedaba foram instalar-se em Moçambique ao sul do Limpopo.
A batalha de Gokoli
marca uma etapa decisiva na carreira de Tchaka e foi o ponto de partida do que
se chamou o Mfecane, ou sejam as migrações para o norte de muitas tribos Ngoni.
Tchaka passou desta forma a dominar em todo o território que ia desde a Baia de
Maputo até ao rio Tugela.
Império de Gaza
Depois da vitória de
Tchaka contra Zwide em Gokoli, um dos chefes militares de Zwide, Soshangane,
foi refugiar-se juntamente com Zwangedaba e Nxaba na região de Lourenço
Marques. Estes comandavam as tribos Mazeko e Msene. Os portugueses tinham uma
pequena fortaleza e uma feitoria em Lourenço Marques. Houve várias pequenas
lutas entre eles e Soshangane mas finalmente chegaram a um acordo e os
portugueses continuaram na feitoria.
Quando o filho de Zwide,
Sikuniana, foi vencido por Tchaka em 1826 foi refugiar-se junto de Soshangane
que assim fortaleceu muito o exército que estava a organizar segundo os moldes
zulus. Soshangane ficou na Baia de Maputo até 1828.
Soshangane, que também
se chama Man ikuse, vai então formar um grande Império, a que deu o nome do clã
de seu avô Gaza. O Império de Gaza tinha a sua capital em Chaimite e daí os
exércitos de Soshangane fizeram expedições em todos os sentidos.
Várias dessas expedições
foram contra os portugueses. Em 1834 houve uma particularmente violenta da qual
resultou a retirada de todos os portugueses que se encontravam em Inhambane.
Soshangane criou um
grande Império que ia desde o Zambeze até Lourenço Marques. Esse império foi o
Império de Gaza. O estado formado por Soshangane era idêntico ao estado zulu que
Tchaka formara. Soshangane continuou a usar o sistema de incorporação por
idades e a utilizar os mesmos métodos de luta. Os chefes das tribos
conquistadas eram obrigados a servir nos diversos exércitos de Soshangane. Os
exércitos de Soshangane eram comandados por indunas escolhidos por ele.
Baixa auto-estima dos vatonga
Quando os Ngoni migram
para a regiao de Inhambane, encontraram dois povos os vatonga e vatxopi. Estes
povos viviam pacificadamente e eram mais tolerantes e acolhedores. Aliais, Vasco da Gama já tinha apelidado Inhambane como "Terra da Boa Gente em 1498". Os Ngoni
dominaram facilmente e ridicularzaram tudo haver com a cultura dos vatonga.
Mataram os mais influentes e todos aqueles que se rebeliavam, tomavam as
esposas destes à força. Os vatonga que quisessem viver deviamassimilar a
cultura Ngoni para além de que, deviam furar a orelha e serem chamados de mabula dlelas abridores de caminho para
o norte do império.
Chegados em Manica e
Sofala, os Ngoni deparam-se com uma realidade pouco habitual. Encontraram povos
com tradição espiritual e religioso mais forte. Praticavam o culto ao Nhanga,
espirito de curandeiro com poder de cura e falar com os ancentrais. Praticavam
o culto numa palhota sagrada cmada de Dhumba, onde residiam o nhanga e o
mphukua (espirito maligno que exigia as dividas ou se vingava de algo). De
salientar que, alem das praticas religiosas deste povo, ele sabia lutar. A
título de exemplo, as revoltas contra os prazeiros e varias frentes aquando do
imperio do Mwenemutapa.
Estes povos da região
norte do império de Gaza agradaram ao Soshongane. Tendo recebido o sector
intermediário, relegando os vatonga para o último lugar na hierarquia do
império. Os membros do núcleo Ngoni constituíam uma classe privilegiada, da
qual eram e colhidos os indunas e os demais chefes, e a qual se chamava
«ba-Ngoni». Os elementos das tribos conquistadas em Manica e Sofala pertenciam a
classe, com alguns privilégios chamada de «ba-changane», e por fim os vatonga
que eram marginalizados e escravisados eram chamados de «mabula dhela». Eram sujeitos a diversos tipos
de discriminação, por exemplo no campo de batalha eram sempre os que ficavam
nas primeiras filas.
Os vatonga não deviam se
expressar em sua lingua por temer represálias. Pararam de fazer ritos de
iniciação mas, continuaram a fazer circuncisão no mato por medo de serem
descobertos. É daí que, os vatonga celebram contratos de pedido de unhanga
para melhorar a sua baixa estima ou tentar fingir que é da descendência Ngoni
para não ser ridicularizado.
O mais engraçado é que
até aos dias de hoje os vatonga têm medo ou vergonha de falar a sua língua
materna na cidade. Preferem falar português quando estão na cidade de
Inhambane e um pouco na cidade da Maxixe e no Centro e Norte do país. Enquanto,
quando vão às províncias de Maputo e Gaza falam changana e ronga. Mesmo quando
regressam, fingem de não saber falar a sua língua materna (gitonga).
Esta ridicularizacão
piora ainda mais com o colonialismo português. Foram obrigados a viver em dois
mundos o
“tradicional”, de que derivam elementos simbólicos que sustentam a identidade étnica, construída socialmente como
“genuína”, e o “moderno”, tido localmente como exógeno, associado à ascensão
social e activação de uma identidade
cosmopolita, trans-étnica, os vatonga
recorrem a um conjunto de estratégias de criação de nomes, cobrindo
estes dois universos. Como consequência disso, os antropónimos que se associam
aos vatonga, exibem uma diversidade na
sua estrutura.
Por um lado, os que podem ser
considerados como tipicamente tonga (ex.: Nhakudzi Pimbi, Rungo Banta); por
outro lado, os considerados tipicamente aportuguesados (ex.: Nádia da Linda
Duce), passando por soluções intermédias, em que há uma junção de elementos tongas e portugueses, ou
ainda muçulmanos (ex.: Hanifa Algy, Nidzi Madeira [Mapulango], António Alberto).
A pergunta que não quero calar é: de que forma se
pode extinguir este medo dos vatonga falarem a sua língua a vontade?